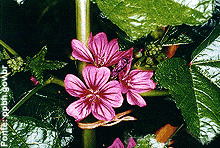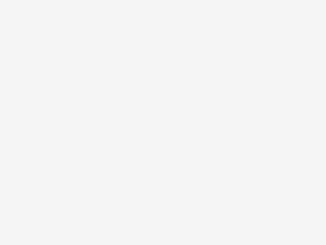Talvez fosse melhor inverter os termos e chamar o artigo de: “Haverá petróleo para o gênero de vida criado pela sociedade industrial?”. O único tipo de desenvolvimento econômico que conhecemos é intensivo em energia. À medida que se desenvolvam, os habitantes dos países em desenvolvimento terão de passar do atual consumo insignificante de energia – 0,75 TEP (tonelada de equivalente de petróleo por pessoa/ano) – a algo entre 2 e 3 TEPs, o que não é exagerado, pois os desenvolvidos têm índice de 4,5 TEP pessoa/ano. Isso significa que, em 2050, quando a população dos mais pobres for de 9 bilhões de habitantes, o consumo mundial de energia terá passado de menos de 9 bilhões de TEP para a cifra colossal de 25 bilhões a 30 bilhões! Esse futuro, aliás, já começou, pois é, em grande parte, a pressão da China e, em grau menor, a da Índia que estão alterando o perfil da demanda energética.

É óbvio que apenas parte desse choque gigantesco de demanda poderá ser atendida pelo petróleo. O resto terá de vir de outras fontes, alternativas ou tradicionais. É por isso que modalidades altamente poluidoras de energia, como o carvão, têm pela frente brilhante futuro assegurado. Nessa equação, o papel da oferta de petróleo é garantir a produção de 120 milhões de barris para 2025, aumento de 50% do nível corrente, apenas para satisfazer o crescimento da demanda específica por óleo, que é de 1,9% ao ano. Ora, até isso, que representa muito menos que a demanda por energia em geral, é hoje objeto de controvérsia.
Na discussão sobre a capacidade de a oferta fazer face a esse desafio, há duas correntes principais. De um lado, estão os que dão ênfase aos limites físicos de produção do óleo, derivados da geologia e da tecnologia disponível para extrair o petróleo a custos competitivos. Do outro, ficam os que privilegiam fatores econômicos e geopolíticos. O que complica a tarefa do leigo desejoso de ver claro na confusão das posições contraditórias é ser a indústria petrolífera uma das menos transparentes da economia. Nela, o recurso à contra-informação é moeda corrente. A falsificação de cifras de produção é habitual, do mesmo modo que a do nível das reservas, a que não escapam até empresas prestigiosas, como a Shell.
É em relação aos limites físicos e geológicos da extração que se situa o debate sobre o esgotamento das reservas e o atingimento do chamado “Pico de Hubbert”, do nome do geólogo estadunidense King Hubbert, o primeiro a calcular, 50 anos atrás, quando se atingiria, na produção, o ponto mais alto a partir do qual o declínio e a conseqüente explosão dos preços se tornariam irreversíveis. Veja bem, ninguém nega que, algum dia, o petróleo vai acabar, já que é recurso finito. O que se discute é quando. Os pessimistas, minoritários na indústria, afirmam que o pico será atingido entre 2007 e 2010, depois de amanhã, portanto. Os otimistas apostam entre 2020 e 2030. A previsão mais otimista é a do Departamento de Energia dos EUA, que indica que o pico seria alcançado entre 2030 e 2075.
Asseveram os céticos que, durante muito tempo, as grandes companhias subestimaram as reservas em cerca de 30%, criando uma reserva não-declarada que lhes permitiu, ano após ano, reavaliar a capacidade, mascarando o fato de que, há 20 anos, os volumes descobertos são inferiores aos consumidos. É verdade que a evolução das reservas tem refletido, sobretudo, a reavaliação permanente e sempre para mais de jazidas já conhecidas, mais que descobertas novas. Os pessimistas calculam as reservas mundiais em 780 bilhões de barris, ao passo que as empresas e fontes convencionais afirmam que elas estariam em pouco mais de 1,1 trilhão, do qual 65,4% no Oriente Médio.
O que ninguém pode negar é que, desde 2000, quando se descobriu o campo gigante de Kashagan, no Cazaquistão – a maior descoberta em 30 anos –, não se encontrou nenhum campo comparável, e as reservas globais descobertas caíram 40% em comparação com a expansão registrada nos quatro anos anteriores.
Entre 2001 e 2003, apenas 6 das 15 principais firmas produtoras conseguiram repor integralmente o óleo que bombearam do solo. Para os que duvidam da explicação baseada nas limitações geológicas, a razão da baixa taxa de reposição é de natureza econômica. A visão de curto prazo, característica de um tipo de economia dependente do chamado “valor para o acionista”, fez com que as companhias cortassem em 27% o orçamento de exploração, no momento em que pagam dividendos cada vez mais altos, possibilitados pelos bons preços.
O custo, em longo prazo, é comprometer as reservas num setor no qual a falta de investimento agora só se fará sentir plenamente em dez anos.
Para essas grandes companhias, a melhor opção é ganhar acesso fácil à região que concentra dois terços das reservas já localizadas e de fácil exploração: o Oriente Médio.
O problema é que, após anos de negociações no âmbito da Organização dos Países Exportadores de Petróleo – OPEP, nem a Arábia Saudita nem o Kuait aceitaram a volta das “majors”, para não falar do Irã, fechadíssimo como sempre, nem do Iraque, cuja porta vem sendo aberta do jeito que todos sabem.
Não há alternativa inteiramente satisfatória, pois a Rússia além da incerteza política deve, segundo muitos consultores, atingir o pico em 2007/08, enquanto a África ocidental é também zona de instabilidade crônica. Outro fator complicador é que, mesmo se tudo der certo e os campos do golfo voltarem a acolher os ocidentais, o resultado líquido será o aumento da dependência do mundo em relação ao mais problemático dos pontos quentes de toda a geopolítica universal.
Como se pode deduzir dessa análise, a maior parte da oferta terá de provir do Oriente Médio, cuja produção deverá dobrar exigindo investimen tos estimados em perto de US$ 30 bilhões por ano, durante muito tempo. É concebível esperar clima de estabilidade política que viabilize tal nível de investimento na região do Planeta com o mais intenso índice de conflito por metro quadrado de deserto?
Revista Eco 21, Ano XIV, Edição 96, Novembro 2004. (www.eco21.com.br)