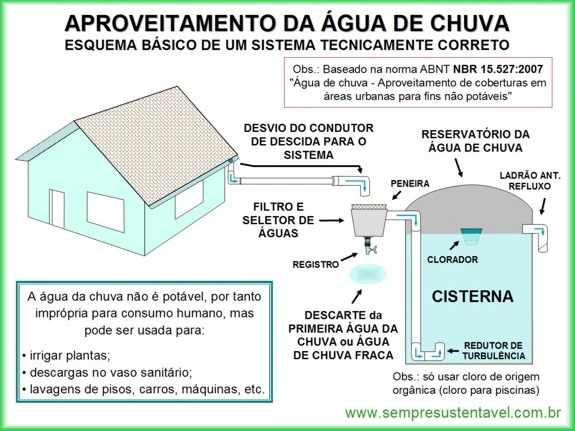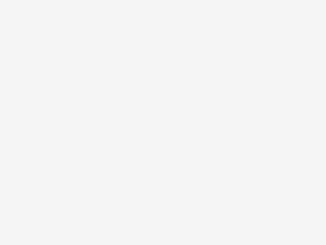A grande vantagem das tecnologias “limpas” está na possibilidade de reverter um custo em benefício. Ou seja, o que seria antes tratado como um problema (gastos adicionais para evitar emissões ou para pagar compensações, caso a redução de emissões não seja técnica ou economicamente viável) passa a ser uma vantagem (ganhos de rendimento ou produtividade). Trata-se, portanto, de uma das tais situações win-win que entraram no nosso vocabulário recentemente, onde o ganho de competitividade ocorre concomitantemente ao ganho social.
Mas uma pergunta acaba sempre incomodando: se a tecnologia limpa é a mais desejável tanto para a empresa quanto para a comunidade, por que ela não é adotada em larga escala? Por que a necessidade de programas específicos para sua difusão?

Existem várias respostas diferentes para essa pergunta. Antes de mais nada, é fundamental lembrar que as estruturas produtivas são bastante heterogêneas, ainda mais no caso de países de industrialização periférica ou tardia (como o Brasil). Essa heterogeneidade estrutural é o resultado de desigualdades e desequilíbrios entre os vários setores, que acentuam diferentes padrões tecnólogicos. Exemplo claro disso está na gritante diferença entre algumas atividades do setor manufatureiro que exigem elevada incorporação de tecnologia (a maioria dos bens de consumo duráveis que incorporam inovações microeletrônicas, por exemplo), com outras onde o dinamismo na incorporação de tecnologia é menos presente (como em várias áreas tradicionais do setor de bens de consumo de não-duráveis). Além disso, percebe-se a coexistência, no mesmo setor, de firmas bastante avançadas tecnologicamente (como algumas empresas voltadas para a exportação, ou filiais de transnacionais), que tentam acompanhar – ainda que defasadamente – o progresso técnico gerado nos países centrais, com empresas bastante atrasadas tecnologicamente, geralmente voltadas para atender o mercado interno (em particular, em áreas onde a qualidade do produto ainda não é tão importante para a concorrência).
As oportunidades para a difusão de tecnologias limpas variam, portanto, enormemente. Em setores onde a disparidade tecnológica entre as firmas componentes é muito grande, existe um grande espaço de avanço simplesmente através da melhoria nas formas de produção das empresas mais defasadas. Nesse caso, o papel da política pública é facilitar a transferência dessas tecnologias, tanto através de difusão (muitas vezes o problema está no desconhecimento de novas técnicas) como criando mecanismos de financiamento e outros incentivos ao aperfeiçoamento tecnológico. Um exemplo ainda pouco explorado no Brasil refere-se ao uso de políticas de compras do governo; nesse caso, pode-se estipular critérios mínimos de controle de produção para que a empresa seja habilitada a participar de licitações públicas, obtenção de concessões, etc.
Uma situação mais complicada refere-se aos setores onde as possibilidade de “ganho-ganho” são muito reduzidas. Ou então, em setores onde o capital instalado é relativamente recente, e a adoção de tecnologias “redutoras de custos” exigiria investimentos pesados sobre um parque instalado que ainda não foi financeiramente depreciado. A situação agrava-se quando a capacidade de financiamento da empresa é menor, situação típica de pequenas e médias empresas: ainda que haja conhecimento de formas mais eficientes de produção, as restrições de capital ou escala impedem a sua adoção, e o máximo que se consegue em termos de gestão ambiental é a adoção de controles de “fim de tubo” que só representam aumento nos custos de produção (logo, menor competitividade).
Deve-se ter claro essa limitação: nem sempre a melhoria da qualidade ambiental poderá ser redutora de custos. O papel do formulador de política (tanto do governo quanto das associações industriais) será exatamente identificar tais situações onde a perda de competitividade é potencial, a fim de apresentar medidas compensatórias.
Aproveito aqui para reproduzir um esquema elaborado por Chudnovsky et al. (1997) em um estudo sobre a indústria argentina, onde as ações de gestão ambiental a nível empresarial são classificadas esquematicamente em três grupos:
| Uso de tecnologias “limpas” | Otimização de processos | Tratamento “fim de tubo” |
|
|
|
|
Tratamento eficaz de efluentes líquidos, emissões atmosféricas e resíduos sólidos e semi-sólidos.
As circunstâncias que levam à adoção das tecnologias limpas e otimização de processos estão normalmente associadas a indústrias de processo contínuo, onde a redução de efluentes pode representar uma economia considerável de custos (menor desperdício = maior lucro). Acho que o exemplo mais óbvio está no complexo sucroalcooleiro: o reaproveitamento da vinhaça transformou um enorme problema em uma solução. Ainda no mesmo setor, a utilização do bagaço da cana como fonte de energia reduz o problema de resíduos sólidos (embora as formas convencionais de queima da biomassa possam gerar outros problemas, relacionados à poluição atmosférica – uma área que tem merecido esforço de pesquisa é exatamente a melhoria na eficiência energética e redução de emissões na queima de biomassa). Outros exemplos estão no complexo papel e celulose, química, metalurgia, etc.
Essas indústrias já estão acostumadas a enfatizar o componente tecnológico como elemento de competição, havendo um círculo “virtuoso” entre eficiência produtiva, capacidade inovativa e controle da contaminação (Chudnovsky et al., 1997). Por outro lado, onde a capacidade inovativa foi pouco desenvolvida ou a possibilidade de reutilização do resíduo é pouco atrativa, o avanço do controle ambiental tende a ser mais concentrado no “fim de tubo”. Pequenas e médias empresas podem levar desvantagens neste ponto, mas cabe ressaltar que não se trata apenas de um problema de tamanho da firma: uma estrutura organizacional pouco estimuladora de inovações induz a alterações apenas marginais (favorecendo estratégias de “fim de tubo”, que pouco alteram o perfil da produção). Ou seja, a pré-existência de um sistema de adoção de inovações (por motivos não-ambientais) certamente favorecerá a difusão de tecnologias limpas.
Muitas dessas transformações estão também associadas a pressões de demanda em alguns (mas longe de ser todos) mercados de exportação e pressões governamentais. O fortalecimento das agências de controle ambiental é crucial, em especial considerando a atual tendência de adoção de instrumentos econômicos na gestão ambiental pública. A adoção do princípio do usuário/poluidor-pagador atua nesse sentido: a maior competitividade passa a ser do mais “limpo” ou “poupador”. Por outro lado, a existência de mecanismos de difusão de tecnologia (e, é claro, de financiamento para a efetiva implementação dessas tecnologias) são de mesma importância: não basta penalizar os que atuam de forma inadequada; é também preciso criar os instrumentos para que o empresário corrija a sua ação.
Por fim, um aspecto ainda pouco ressaltado mas que tende a crescer de importância no futuro, é a harmonização de normas ambientais nos processos de integração econômica. Nossos parceiros de Mercosul também devem compartilhar os esforços de melhoria da gestão ambiental, sob o risco de criarmos “santuários” de poluição nas regiões onde o controle é menos rigoroso, gerando um diferencial de competitividade “espúrio” (beneficiando os produtores que menos investirem em controle de poluição nas situações onde o ganho-ganho não é possível).
Por isso, devemos evitar o falso dogma de que maior participação empresarial na gestão ambiental significa menor necessidade de ação pública nessa área. Um mito frequentemente repetido, em especial dentro do credo liberal ortodoxo, é o da “limpeza” que a liberalização de importações eventualmente traria para os produtores ineficientes, normalmente identificados como os mais poluidores. Segundo essa visão, não seria preciso nenhuma intervenção de política pública: na medida em que a concorrência internacional “naturalmente” eliminasse os menos competitivos, o mercado estaria automaticamente reduzindo a poluição. Esse raciocínio, embora bastante difundido, é falacioso: nada garante que o mercado, por si só, irá eleger os mais eficientes do ponto de vista ambiental. Por trás dessa idéia, retoma-se o princípio de voltarmos a ser um país exportador de mercadorias intensivas em recursos naturais simplesmente porque hoje apresentamos maiores vantagens comparativas (estáticas) nessas atividades. Desenvolvimento sustentável é incompatível com dependência em recursos naturais, seja ela sob forma de exaustão de recursos não-renováveis ou de degradação de recursos renováveis.
Esse lembrete serve para alertar que, apesar dos avanços em algumas atividades voltadas para mercados externos onde os consumidores são ambientalmente exigentes, nem toda exportação é gerada de maneira ambientalmente desejável. Mais: resultados empíricos das pesquisas que venho coordenando no Grupo de Economia do Meio Ambiente do Instituto de Economia mostram que, ao menos desde a década de oitenta, a economia brasileira vem apresentando uma perigosa tendência de especialização na exportação de produtos potencialmente poluidores (Young, 1998). Analisado sob uma perspectiva de ciclo de vida (através de técnicas de insumo-produto), o complexo exportador brasileiro apresentou consistentemente intensidades de emissão (i.e., emissão gerada por unidade de valor da produção) maiores que a da média da economia para uma série de parâmetros associados à poluição do ar e da água. Isso indica que o Brasil inseriu-se na divisão internacional do trabalho como especializado em atividades “sujas”, ratificando o famigerado lema do “venham nos poluir”.
(Esse e outros assunto correlatos serão abordados no Curso de Economia Ambiental oferecido pelo Núcleo Interdisciplinar de Estudos Ambientais e Desenvolvimento (NIEAD) do CCMN da UFRJ (www.niead.ufrj.br).
Carlos Eduardo Frickmann Young
Prof. do Instituto de Economia/UFRJ e Prof. do Curso de Economia Ambiental do NIEAD/UFRJ