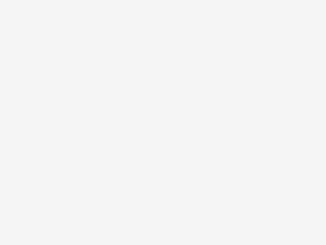Os desastres ambientais, tanto os chamados naturais como os induzidos pela atividade antrópica, têm feito um número crescente de vítimas, cujas mortes, na maioria das vezes, poderiam ter sido evitadas. Só na América Latina e Caribe, terremotos, furacões, tempestades tropicais, inundações, deslizamentos, secas e contaminações tiraram, entre 1972 e 2001, mais de 80 mil vidas, contabilizados apenas os desastres acompanhados pela CEPAL.
As perdas econômicas provocadas pelos desastres foram oito vezes maiores entre 1986 e 1995 do que na década de 1960.
Podemos facilmente notar a curva ascendente dos prejuízos, se observarmos que, de 1990 a 1999, os grandes desastres ambientais do mundo somaram 480 bilhões de dólares, enquanto representaram, somente no biênio 1997-98, um montante de 120 bilhões de dólares. Já no Brasil, estima-se que os danos ambientais geram prejuízos da ordem de 700 milhões de dólares ao ano, pois temos, em comparação com os EUA, por exemplo, 50% mais acidentes no setor industrial.
A década de 1960 marcou o início de estudos quantitativos sobre riscos em várias disciplinas.
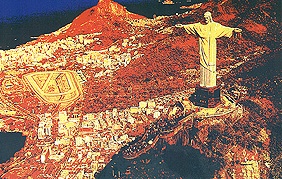
Os riscos foram, inicialmente, concebidos como “a possibilidade de que ocorram processos ou circunstâncias adversas que possam acarretar danos”. Na década de 1980, começaram a surgir, nas áreas das ciências sociais, enfoques mais críticos, por meio de estudos em que os riscos foram trazidos para uma abordagem de maior cunho sociológico e não apenas físico. Os riscos ambientais de graves conseqüências, assim como os advindos dos avanços tecnológicos, começaram a ser considerados como chaves para a compreensão das características, das transformações e dos limites do projeto histórico da modernidade.
O entendimento passou a ser o de que os riscos têm origem no próprio desenvolvimento científico e tecnológico que, apesar de seus avanços positivos, adicionam a estes uma incerteza quanto ao aproveitamento que lhe atribui a atividade econômica humana. Hoje se reconhece que somente por meio dessa perspectiva é possível abordar, em sua complexidade, a estimativa dos riscos.
A Conferência do Rio, em 1992, trouxe também uma mudança significativa na abordagem dos riscos, no sentido em que o conceito de sustentabilidade permitiu a reorientação da abordagem de problemas como os da contaminação, dos desastres ambientais e os da pobreza. Eles passaram a ser vinculados à questão do crescimento econômico e do desenvolvimento, como forma de tentar reverter a deterioração dos recursos naturais e a perda de biodiversidade. Na Conferência, a comunidade internacional expressou o desejo de mudança nos padrões do crescimento global, com o compromisso de incorporação do conceito do desenvolvimento sustentável nas políticas nacionais e nos processos de cooperação internacional.
Como reflexo da crescente preocupação internacional com o tema, a ONU declarou o decênio de 1990 como a Década Internacional para a Redução dos Desastres Naturais. E em virtude da identificação das relações entre os desastres ambientais e o nível de desenvolvimento dos países, o Banco Mundial promoveu, ainda em 1990, uma reunião em que se consolidou a noção de que as condições de pobreza dos países em desenvolvimento contribuem, sobremaneira, para o aumento de vítimas dos desastres naturais. Um grupo também foi formado no âmbito da ONU, e seus relatórios enfatizaram a urgência na aplicação do conhecimento técnico-científico para aliviar o sofrimento humano e a insegurança econômica. Ficou definida para a Década, entre outras metas, a de fortalecer a capacidade de cada país para mitigar os efeitos dos desastres naturais, pois estava claro que a falta de infra-estrutura de apoio aumentava o número de vítimas.
Apesar desse inicial esforço, de ordem internacional, os efeitos nocivos dos desastres só fizeram aumentar, agravados ainda mais pelos fenômenos climáticos advindos do Efeito Estufa.
Concluída em 2000, a Década Internacional para a Redução dos Desastres Naturais, a ONU criou um Secretariado Permanente tendo em vista impulsionar uma estratégia internacional para a redução dos desastres. Mesmo sem qualquer resposta concreta significativa, resultou de tal esforço a evolução da análise teórica do problema para efeito de reorganização dos estados nacionais e do amadurecimento da cooperação internacional.
Com base nos estudos do BID e da CEPAL, podemos concluir que o conceito de desastre pressupõe a ocorrência de dois fatores: a ameaça de uma situação e a vulnerabilidade das pessoas e dos bens. A ameaça refere-se à probabilidade da ocorrência de um evento físico capaz de ocasionar danos: terremotos, ciclones, inundações, acidentes industriais, etc. A vulnerabilidade, por sua vez, refere-se à propensão de uma sociedade ou de um grupo social para sofrer danos a partir da ocorrência do evento físico.
A partir dessa perspectiva, o risco passou a ser o resultado da concorrência dos dois parâmetros anteriores: ameaça e vulnerabilidade. Os desastres então acontecem quando uma situação de ameaça se concretiza, associada com uma condição de vulnerabilidade, excedendo-se a capacidade social de controlar ou assimilar as conseqüências. Logo, pelo menos a partir do componente da vulnerabilidade, podemos concluir que mesmo os desastres chamados “naturais” são, de alguma forma, antrópicos e socialmente induzidos.
Essa distinção é fundamental para compreender que ainda que a ameaça escape por completo do controle humano, o risco pode ser manejado com eficácia, mediante a gestão adequada das condições de vulnerabilidade. Reduzir a vulnerabilidade permite, em todos os tipos de desastres, diminuir os riscos. Fica claro então que a situação sócio-econômica das populações afetadas determina sua vulnerabilidade e o impacto dos desastres. Já existem dados suficientes, comprovando que é maior a fração do PIB comprometida com os danos causados pelos desastres, quanto menor é o PIB da nação afetada.
Nos países em desenvolvimento, o setor mais pobre da população urbana está freqüentemente assentado em locais inadequados e geralmente não recebem suficiente assistência por parte do Estado.
A essa população resta a opção de construir precárias habitações em terrenos instáveis, sujeitos a inundações e deslizamentos ou próximos a locais de atividades industriais perigosas. Por este motivo, os pobres das grandes cidades constituem hoje a classe social mais vulnerável aos desastres ambientais.
Desastres e pobreza se reforçam mutuamente. As implicações econômicas dos desastres são constituídas pelos prejuízos diretos: perda de patrimônio e infra-estrutura destruída; e pelos prejuízos indiretos: queda de produção, perda de empregos, gastos para fazer frente às emergências e pelos prejuízos secundários que se refletem na macroeconomia após o desastre.
São os custos indiretos e os secundários os que mais impactam os países em desenvolvimento, sendo estes, no entanto, de difícil contabilização e muitas vezes subestimados, uma vez que a população que sobrevive em condições de marginalidade, assim o faz por meio da economia informal, que passa ao largo das aferições das contas nacionais.
As cidades dos países em desenvolvimento, apesar de serem os motores do processo de crescimento econômico, têm estado submetidas às mais diversas degradações e a freqüentes desastres ambientais. Isso por não contarem com um prognóstico dos impactos sociais e ambientais da industrialização crescente e com intervenções adicionais que corrijam os efeitos adversos do crescimento.
Essa situação amplia-se de tal forma, elevando o grau dos problemas a uma tal magnitude, quando observamos que dois terços do crescimento populacional do mundo tem lugar nas cidades dos países em desenvolvimento e que estes países abrigam mais de 80% das megacidades do mundo.
Tal quadro, na maioria das vezes, resultou de uma mesma dinâmica sócio-econômica. Da mesma forma como se extraiu o excedente da agricultura para favorecer a industrialização e a urbanização, as populações rurais foram expulsas para as cidades, nas quais se assentaram em condições plenas de informalidade e precariedade. Como resultado, a metade da população urbana dos países em desenvolvimento vive, hoje, em grandes cidades e áreas metropolitanas.
Nessas áreas tem-se observado, no entanto, uma redução na taxa de crescimento populacional. Na América Latina, por exemplo, apesar da previsão de que 85% da população seja urbana em 2025, o processo dominante, na atualidade, consiste na redistribuição da população urbana para as cidades médias. No Brasil, onde 80% da população é urbana, devendo chegar a 89% em 2025, o fenômeno também se verifica.
Cabe, em nosso caso, assinalar o crescimento da chamada “cidade ilegal”. Entre 1980 e 1991, mais que dobrou o número de moradores de favelas no país, com crescimento bem maior nas regiões Norte e Nordeste que nas outras regiões. Calcula-se que, em algumas cidades, quase metade do espaço construído esteja na esfera do irregular e do informal.
Esse crescimento urbano informal tem favorecido a degradação ambiental das encostas e margens de rios das cidades, deixando seus desafortunados habitantes vulneráveis às chuvas intensas, enchentes, e deslizamentos, que constituem os desastres ambientais de praxe dos verões brasileiros.
Infelizmente, nossa maior deficiência tem sido a repetida atitude passiva de resposta aos eventos, mesmo quando estes ocorrem periodicamente, ao invés de uma estratégia pró-ativa, capaz de enfrentar os efeitos potenciais antes que se transformem em tragédias. O atendimento aos desastres afeta sobremaneira os gastos sociais dos governos, pois além dos danos imediatos a serem reparados, os desastres deslocam as prioridades de gasto e de intervenção pública para demandas de curto prazo, em detrimento dos investimentos de longo prazo e da adoção de estratégias de desenvolvimento sustentável.
Entre as formas de gestão para a melhoria das condições de vulnerabilidade dessas populações, destacam-se as relativas à infra-estrutura (um adequado sistema de escoamento pluvial no caso de enchentes), as organizativas (sistemas de alerta e de monitoramento) e as econômicas, quer dizer, instrumentos econômicos capazes de induzir mudanças de comportamento no setor produtivo e nos governos. Do ponto de vista da produção legislativa, podemos avaliar que, na grande maioria dos casos, não é por falta de leis e outras normas, que acontecem os desastres.
Temos no País suficiente legislação urbanística e de ordenamento do solo, assim como vasta legislação ambiental. Recentemente, foram ainda promulgados importantes instrumentos legais como a Lei de Crimes Ambientais, que veio aprimorar as regras de comando e controle das atividades potencialmente poluidoras, e a Lei das Águas, que definiu o gerenciamento integrado de nossas bacias hidrográficas.
Apesar disso, os acidentes ambientais tem-se intensificado no Brasil, o que nos tem levado a uma ação mais pungente na seara de nossa outra prerrogativa constitucional que é a de fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo. Temos procurado ser vigilantes, quanto ao cumprimento das Leis que emanam de nossas casas legislativas. Daí, as diversas CPIs instaladas e audiências públicas promovidas no âmbito do Congresso Nacional.
Recentemente tivemos um produtivo debate em audiência pública na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, por ocasião do vazamento de mais de um bilhão de litros de resíduos tóxicos da Indústria Cataguazes de Papel, em afluente do Rio Paraíba do Sul, que atingiu Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, afetando mais de 40 municípios e cerca de 600 mil pessoas.
Na audiência, o Secretário Executivo do Ministério do Meio Ambiente garantiu que todas as ações possíveis, dentro da realidade precária do atual Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, foram tomadas de forma conjunta pelas diversas instâncias de Governo, no sentido de minimizar os impactos ambientais sociais e econômicos do desastre.
Na ocasião, o Secretário teve a oportunidade de nos apresentar a iniciativa do Ministério em por em prática, o mais rápido possível, um Sistema de Resposta Rápida a Emergências Ambientais, como deslizamentos, desabamentos, enchentes, inundações, incêndios florestais e vazamentos de produtos tóxicos.
O Sistema Nacional do Meio Ambiente procurará identificar instituições e profissionais que possam contribuir com técnica e conhecimento e deverá atuar diferentemente em desastres originados por fenômenos climáticos e em outros originados por produtos perigosos.
Naquela oportunidade, algumas ações foram identificadas como imprescindíveis ao funcionamento do Sistema, tais como a descentralização para a resposta rápida, a formatação de protocolos de comunicação, a instalação de monitoramento ambiental informatizado e a urgente criação de uma base de dados sobre riscos ambientais nos municípios brasileiros.
Dois desses aspectos sobressaem como fundamentais: a descentralização e a questão da informação. Tratei-os de forma conjunta em Projeto de Lei Complementar, de minha autoria, que tem como objetivo definir, de uma vez por todas, as competências dos entes federativos, a partir da regulamentação do art. 23 da Constituição Federal e estabelecer as obrigações de alimentação do Sistema Nacional de Informações Ambientais.
Tal iniciativa é essencial para a promoção de uma responsável descentralização de competências para os Estados e Municípios, e a descentralização, por sua vez, é absolutamente necessária para a construção do Sistema de Respostas Rápidas a Emergências Ambientais idealizada pelo Ministério do Meio Ambiente.
Quanto à questão da informação, é incrível como ainda convivemos com atitudes retrógradas de ocultamento de dados importantes, mesmo tendo a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, de 1981, enfatizado como uma de suas principais diretrizes o acesso à informação ambiental pela população. O acesso à informação sobre riscos ambientais e de saúde, oferecido pelas indústrias que manipulam produtos perigosos, é restrito, quando não vetado.
A Shell Química do Brasil, por exemplo, além de nunca haver informado à população de seu entorno sobre a manipulação de organoclorados, ainda questionou um relatório de 2001 da Secretaria de Saúde da cidade de Paulínia, em que estavam explícitos os exames de saúde de 181 moradores. No relatório, constava que 86% deles portavam chumbo, arsênico, hexaclorobenzeno ou DDT acima dos índices aceitáveis e que mais da metade apresentava distúrbios neurológicos, tumores e problemas no fígado. A empresa classificou o relatório como “um conjunto de conclusões e insinuações não fundamentadas”.
Há países como Alemanha e Inglaterra que têm serviços de informação à sociedade sobre as áreas de risco e as substâncias químicas a que estão expostos, quando da atividade de uma indústria, assim como têm leis que obrigam o Poder Público e às empresas privadas a notificar à população vizinha caso ocorra algum acidente ambiental. No Brasil, o Código Civil apenas prevê a obrigatoriedade do proprietário, vendedor, ou alienante de uma área contaminada de informar ao comprador sobre a existência de poluentes no local.
O pior é que até mesmo a autoridade pública se omite quanto ao dever de informar. Vejamos que a CETESB vinha elaborando, desde 1993, a lista oficial de áreas contaminadas por indústrias no Estado de São Paulo, mas esta só foi divulgada há cerca de um ano. A justificativa para a demora foi a de que, pasmem, as informações poderiam causar pânico nos moradores das áreas afetadas e ainda provocar a desvalorização dos imóveis.
Além do citado projeto de lei complementar, outras proposições ainda em tramitação merecem destaque quanto à sua relevância para a prevenção de desastres ambientais.
Um exemplo é a Medida Provisória que altera o Código Florestal que, enquanto não for convertida em Lei, não estaremos seguros no que se refere aos mecanismos de proteção da vegetação, fundamental para a conservação do solo e dos recursos hídricos.
Também o Projeto da Mata Atlântica é fundamental para a preservação ambiental e o uso sustentável desse bioma já bastante devastado e que abriga mais de 60 por cento da população brasileira, em sua maioria concentrada em grandes centros urbanos, alvo principal da preocupação na prevenção de acidentes ambientais, por sua vulnerabilidade.
Além desses, tramitam no Congresso Nacional alguns projetos que procuram aperfeiçoar os mecanismos de comando e controle das atividades potencialmente poluidoras, com destaque para a obrigatoriedade da Auditoria Ambiental e da contratação de Seguro Ambiental.
Quanto ao Seguro Ambiental, permito-me alongar um pouco mais, devido à inovação que, do meu ponto de vista, o instrumento traria à prevenção dos desastres ambientais.
É fato que nossa legislação específica sobre a proteção do meio ambiente muito se enriqueceu nos últimos anos, principalmente com a promulgação última da Lei de Crimes Ambientais. Porém, quando se buscam soluções reparatórias ou indenizatórias decorrentes da responsabilidade civil por danos ao meio ambiente, não raro defrontamo-nos com inúmeros óbices, entre eles a não possibilidade de solvência do agente causador do dano.
Todas as salvaguardas tornam-se, inclusive, de pouca eficácia, quando ocorrem poluições extremamente dispendiosas, em que os agentes não dispõem de recursos suficientes para cobrir os gastos reparatórios ou efetivar as indenizações devidas. O seguro ambiental viria propiciar uma forma equilibrada de atender as obrigações de reparação e indenização por parte do agente poluidor e, ao mesmo tempo, possibilitar a continuidade, com as devidas correções, da atividade empresarial.
O seguro traria obrigações e vantagens para ambas partes, ficando a empresa segurada amparada quando da ocorrência de sinistros, por meio do pagamento do prêmio à seguradora, em valor compatível com o risco da atividade, ao mesmo tempo em que a seguradora exerceria contínua vigilância para que a segurada não incidisse em comportamentos motivadores de dano ambiental. Se a Petrobras, a Cataguazes e a Shell Química estivessem, em decorrência de seguro dessa natureza, sob rigorosas vistorias técnicas de seguradoras, não estariam elas, as empresas, a enfrentar os processos judiciais e, muito menos nós, a comunidade, a lamentar os terríveis acidentes ecológicos que causaram.
É certo que a proposta carece ainda de ajustes, principalmente no campo da definição mais precisa de poluição, em que é necessária a separação da poluição gradual da que ocorre de forma súbita, gerando os desastres ambientais de larga repercussão, uma vez que apenas a última seria coberta pelas seguradoras. Para a superação de tal obstáculo, no entanto, nos serão bastante úteis as experiências já em curso nos EUA, na França e na Alemanha.
Relacionadas as ações fiscalizadoras e propositivas do Parlamento brasileiro a respeito do aperfeiçoamento das normas legais que, de alguma forma, podem contribuir para uma melhor gestão dos riscos ambientais urbanos abordo uma temática que me interessa tratar.
Tal aspecto cuida da necessária evolução que o nosso País precisa fazer para que, de fato, torne-se portador das ferramentas mais eficazes para a conquista do desenvolvimento sustentável. Minha experiência, frente ao Ministério do Meio Ambiente, deixou-me convencido de que uma política ambiental baseada apenas nos mecanismos de comando e controle não é suficiente para reverter a degradação e tomar o rumo do desenvolvimento limpo. É imprescindível que avancemos na promoção de instrumentos econômicos capazes de incorporar o custo ambiental a produtos e serviços, permitindo ao mercado a absorção, de fato, do conceito da sustentabilidade. Não podemos, neste momento em que operamos as reformas estruturais para o País, perder a oportunidade de promover uma verdadeira metamorfose na estrutura de nossa economia, se, realmente, a queremos socialmente justa e ambientalmente sustentável.
Daí a enorme pertinência da chamada “Reforma Tributária Ecológica”, que, hoje, se vê representada pela enorme quantidade de emendas apresentadas à Proposta de Emenda à Constituição nº 41, emendas estas que procuram incorporar, ao Sistema Tributário Nacional, o poder de ser ele mesmo o mais importante instrumento econômico de política ambiental para o País. Entre as emendas apresentadas destaco as que propõem a consolidação do princípio do poluidor-pagador, ou do usuário-pagador, seja como princípio a nortear todo o sistema tributário, seja como princípio a nortear os tributos da União ou apenas um imposto específico, como o IPI.
Em linha complementar, destaco também as propostas de consolidação do princípio do não-poluidor-recebedor, ou do protetor-recebedor. O princípio do protetor-recebedor postula que aquele agente público ou privado que protege um bem natural em benefício da comunidade deve receber uma compensação financeira pelo serviço de proteção ambiental prestado.
O ICMS ecológico já aplicado em alguns Estados brasileiros é um bom exemplo desse princípio. Os bons resultados são incontestáveis: o aumento da superfície de áreas protegidas, no Paraná, foi de 142,82%, até 1999, e em Minas Gerais, de 48%, até 1998.
No que concerne à experiência mineira de estender o incentivo fiscal também para o saneamento básico, dos 16 milhões de habitantes do Estado, 3 milhões passaram a contar com disposição final adequada de lixo, com aterros sanitários e usinas de compostagem.
Nas emendas apresentadas, concebem-se diversas alternativas para sua aplicação: isenções tributárias, critérios ambientais para repartição das receitas do ITR, FPE e FPM ecológicos, e outras. Unindo os princípios do poluidor-pagador e do protetor-recebedor, há emendas prevendo que a seletividade do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) e do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) seja ponderada não apenas a partir do critério da essencialidade do produto ou serviço, mas também a partir do impacto ambiental a ele associado. Há, ainda, emenda, propondo que a contribuição previdenciária incidente sobre a receita ou faturamento proposta pelo governo seja aplicada de forma diferenciada de acordo com o impacto da atividade da empresa e do ciclo de vida de seus produtos sobre o meio ambiente.
Por fim, há emendas propondo a instituição de CIDE (Contribuição de Intervenção sobre o Domínio Econômico) relativa à importação ou comercialização de substâncias potencialmente causadoras de significativo impacto ambiental, prevendo empréstimos compulsórios para o caso de grandes desastres ambientais.
Devo lembrar que o Ministério do Meio Ambiente tentou, mas infelizmente não conseguiu, inserir disposições, nessa linha, no texto da Reforma Tributária encaminhado ao Congresso Nacional.
A alegação da área econômica do Governo tem sido, ao que parece, de que o tema deve ser regulado por leis complementares e outras normas infraconstitucionais. O Partido Verde discorda desse posicionamento e pretende manter e fortalecer a proposta da Reforma Tributária Ecológica, apoiando a iniciativa original da área ambiental do Governo.
O que o País precisa não são pequenas concessões ao meio ambiente na legislação que regula os diferentes tributos, a serem conseguidas certamente depois de muito tempo de luta para a alteração de um verdadeiro emaranhado de leis.
O que o País precisa é que a questão ambiental, e os princípios que a norteiam, sejam inseridos na estrutura do sistema tributário nacional.
Aqui quero expressar minha preocupação de que, na sanha pelo crescimento econômico – maior objeto da campanha presidencial -, sejam esquecidos os cuidados com o meio ambiente e os princípios do desenvolvimento sustentável. É importante lembrar que, na última década, as cidades, sobretudo as maiores, geraram 80% do PIB dos países em desenvolvimento. O crescimento econômico, no entanto, não pôde resolver os principais problemas urbanos de pobreza, de contaminação e degradação ambiental, de perda dos recursos naturais e de vulnerabilidade aos desastres.
A compatibilidade entre o crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável requer uma outra maneira de medir o crescimento, que considere todas as questões importantes para a qualidade de vida, tais como a exposição humana a situações de risco e a degradação ambiental de seu hábitat.
Um exemplo de inadequação do crescimento tradicional é a utilização do indicador convencional do PIB per capita, para sugerir o crescimento da economia. O Proiduto Interno Bruto reflete somente uma parcela da realidade: as transações monetárias. A taxa do PIB não somente oculta a crise da estrutura social, mas também a destruição dos recursos naturais – base da economia e da própria vida humana. Contraditoriamente, efeitos desastrosos são contabilizados como ganhos econômicos.
Por exemplo, a criminalidade nas áreas urbanas impulsiona a indústria da proteção e da segurança que fatura milhões. Os assaltos a bancos e seqüestros estimulam os negócios das companhias de seguro, aumentando também o PIB. Quanto mais degradados os recursos naturais, maior o crescimento do PIB! A poluição, por sua vez, aparece duas vezes como ganho – quando produzida pelas indústrias e quando se gastam fortunas para limpar os resíduos tóxicos.
Os gastos com médicos e medicamentos também são considerados crescimento do Produto Interno Bruto. Essa contabilidade ignora, principalmente, a distribuição de renda, quando apresenta os lucros auferidos pelo topo da pirâmide como ganhos coletivos.
Vivemos um momento ímpar, em que os brasileiros clamam por mudanças e o Governo tem chances concretas, sem precedentes, de aprovar reformas estruturais em nossa economia.
Este é o momento em que também os problemas crônicos de nossa sociedade têm a chance concreta de serem revertidos, entre eles a vulnerabilidade urbana face aos graves desastres ambientais.
Vamos crescer, não para que as estatísticas econômicas ganhem unidades adicionais, mas para que possamos nos orgulhar de, nesse momento histórico, estarmos agregando ganhos sociais e ambientais significativos à sociedade brasileira. E, certamente, com isso estaremos melhorando a qualidade de nossa cidadania.
José Sarney Filho – Ex-Ministro do Meio Ambiente, Deputado Federal e líder do Partido Verde
Fonte: Revista Eco 21, Ano XIII, Edição 81, Agosto 2003. (www.eco21.com.br)