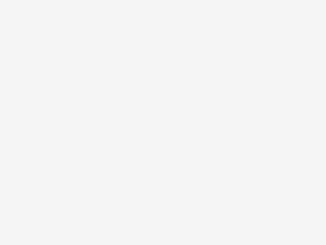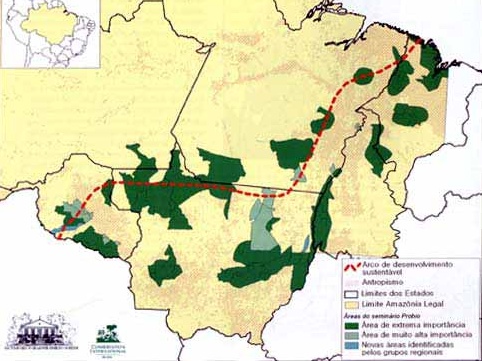“Vejam bem esta fotografia”, diz o botânico Ghillean Prance, projetando na tela do Museu de Arte da Pampulha uma cena de árvores queimadas. A imagem, que qualquer brasileiro pode ver a torto e a direito em beira de estrada, dificilmente chamaria a atenção da platéia, se Prance não dirigisse na Inglaterra o Real Jardim Botânico de Kew e o Eden. Ele esteve em Belo Horizonte exatamente para mostrar o que esse tipo de parque público pode fazer pela conservação da natureza.
Aquela queimada é um pedaço dos impecáveis jardins de Kew. Fica na floresta de Wakehurst Place, nos arredores de Londres. E se trata mesmo de uma carvoaria. À primeira vista, uma carvoaria como as brasileiras, que fazem parte de nossa paisagem pelo menos desde o século XIX, quando o pintor Félix Taunay flagrou seu trabalho sujo lambendo os morros do Rio de Janeiro. Mas com a vantagem de ser uma “carvoaria sustentável”, operada por ilustres ambientalistas.
Tão ilustres que Prance – ou melhor, Sir Ghillean Prance – é cavaleiro do Reino Britânico desde 1995, por serviços prestados às ciências naturais. Ele tem no currículo mais de 360 artigos científicos publicados. Duas plantas da Amazônia brasileira levam seu nome. Fala um português fluente, herança dos quase nove anos que passou no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, implantando cursos de pós-graduação na beira da selva, em Manaus. Na Inglaterra, além de Kew, dirige o Eden Project, onde investimentos da ordem de cento e tantos milhões de libras transformaram num berçário de raridades vegetais uma cratera esquálida que a mineração de argila deixara para trás na Cornualha.
Sua biografia parece feita sob medida para desmentir a velha lenda amazônica, que atribui à pirataria de Kew Garden o fim do monopólio mundial da borracha pelos seringais brasileiros. Na verdade, a transferência de seringueiras para o Ceilão começou com a exportação legal de mudas, que o Brasil autorizou no século XIX por excesso de autoconfiança. E deu no que deu. Na crise da borracha. A Hevea brasiliensis chegou à Ásia através das estufas de Kew e de lá deu volta ao mundo, contornando o monopólio brasileiro. E a proeza de aclimatá-la valeu a outro pesquisador de nossa flora nativa, Henry Wickham, o título de cavaleiro do reino vegetal.
Passado o caso da seringueira, veio Prance, abrindo caminho aos estudos sobre a “sustentabilidade das florestas tropicais” sobre em terreno minado. É difícil esquecer seus antecedentes históricos, ouvindo-o no auditório da Pampulha. A seu redor, havia técnicos e diretores de jardins botânicos do Brasil inteiro. Ou seja, trinta e poucos gatos pingados, sentados diante de um autêntico “lorde inglês”, como se chamavam os modelos nacionais de elegância masculina, antes que as lojas de roupa cedessem ao cerco da alfaiataria italiana. Mas, ao vê-lo, ninguém diria. Usava calças jeans, meias brancas e um blazer desabotoado, que no frio ameno de Belo Horizonte deixava ver através da camisa social de pano fino as letras da camiseta de propaganda usada por baixo da roupa. Tem uma filha trabalhando nas favelas de Recife. E comparece religiosamente às reuniões da Rede Brasileira de Jardins Botânicos, o que em si já é um sinal de modéstia.
A rede, que está multiplicando o número de jardins botânicos no país, pode ter funções muito relevantes em seu meio, mas vive da mão para a boca. Em 2003, roeu um orçamento de R$ 2 mil. Este ano, na décima terceira edição de seus encontros trienais, deu ao diretor de Kew o premio Doutora Graziela Maciel Barroso. E no dia seguinte, ele explicou por que. Como se precisasse explicar por que escolheram logo ele, um cientista inglês, para abocanhar um troféu batizado com o nome de uma pesquisadora nascida em Corumbá, que trabalhou até os 91 anos de idade no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Prance abriu a palestra sobre “A sustentabilidade dos Jardins Botânicos” com um slide desbotado, que nada a tinha a ver com seu assunto. Nele apareciam, de costas, uma mulher e duas meninas, caminhando pela aléia de palmeiras do Jardim Botânico carioca. “É minha família”, esclareceu. “Tirei esta foto em 1998. Estávamos chegando lá para meu primeiro encontro com a Dra. Graziela”.
Apresentadas as credenciais de Prance, está na hora de voltar à carvoaria de Wakehurst Place. Nela, segundo o diretor, o jardim tem “área florestal considerável”. Ou, pelo menos, com espaço suficiente para alimentar os churrascos de fim-de-semana, que para isso queimam carvão vegetal, vindo das florestas devastadas da África e da América do Sul. “Oitenta por cento do carvão que os ingleses compram são importados. Ou seja, são o que restou da queima de madeira tropical de países pobres. E isso é insustentável”.
O remédio foi entrar no mercado, vendendo nas lojas do Jardim Botânico de Kew o carvão que é feito ali mesmo, com árvores que rebrotam depois de podadas. “É claro que o projeto Wakehurst não tem tamanho para abastecer toda a Inglaterra”, ele disse. Mas serve para chamar a atenção para o problema e sua solução doméstica. “Pelo exemplo, queremos convencer os donos de bosques particulares na Inglaterra a fazerem a mesma coisa. Esperamos que essa prática se estenda a muitos outros produtores. Criei até mesmo uma ONG para encorajar a produção de carvão na Inglaterra”.
Nessa trilha, o Kew Garden atualmente chega longe. No Zimbábue, o professor David Cutler toca, com anatomistas de madeira formados nos laboratórios da casa, um projeto para plantar madeira combustível, de crescimento rápido e alto teor calórico, em volta de aldeias africanas, evitando que elas continuem a calcinar as florestas da vizinhança. Na Malásia, onde a fabricação de móveis artesanais ameaçava a sobrevivência das palmeiras de ratã, o professor John Dransflield ensina as populações locais a cultivá-las. Com a vantagem extra de que as “ratãs são trepadeiras e, portanto, precisam de árvores para escorá-las. Suas plantações não são, portanto, monoculturas, e com isso asseguram que muitas espécies de árvores das florestas originais sejam preservadas”.
Por essas e outras, as lojas de suvenir de Kew Garden hoje oferecem aos visitantes, além de carvão, café com certificado de procedência, atestando que os grãos foram cultivado à sombra de florestas, terra vegetal para substituir a turfa que vem de terrenos pantanosos e adubo produzido por reciclagem de lixo. Nos restaurantes do parque, as verduras que vão à mesa têm que sair de hortas orgânicas. As áreas de compostagem, que antes ficavam meio escondidas, por não oferecerem aos turistas um espetáculo tipicamente bucólico, foram agora escancaradas ao público, por seu valor educativo.
Prance veio ao Brasil avisar que é este o futuro dos jardins botânicos no planeta. Mas, ignorada pela imprensa nativa, sua advertência passou quase em branco nas férias de julho. O que não deixa de ser uma prova de que continuam vivam as tradições botânicas deste país, que aliás também não deu muita trela às idas e vindas de Henry Wickham entre a Amazônia e a Inglaterra, com suas sementes de seringueira.
Marcos Sá Corrêa
www.oeco.com.br