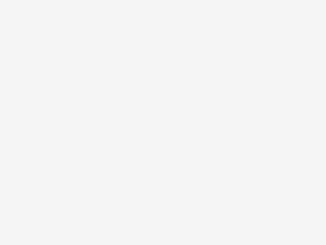A exclusão tem sido, ao longo dos tempos, o mecanismo mais eficaz para garantir a identidade e coesão de um grupo, quer se trate de tribos, nações, raças, sexos ou espécies, ao que a ética responde com o alargamento progressivo da esfera de consideração moral, até atingir a universalidade, na esfera do humano, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem. No entanto, a racionalidade (à qual é hábito associar a linguagem, a meu ver, de forma errônea), mantém-se, ainda, como diferença específica do Homo sapiens sapiens, impedindo a ultrapassagem da última barreira ética, a saber, o preconceito especista. No entanto, o que se me afigura digno de nota, é não ser sequer a dita racionalidade o verdadeiro critério distintivo do animal humano em face dos restantes animais, mas sim algo muito mais aleatório que justifica bem melhor a qualificação do especiecismo como preconceito e que é denunciado, já no Século 17, por John Locke, em “O Ensaio sobre o Entendimento Humano”.

Vejamos o que nos diz o filósofo inglês: “[…] Penso poder estar seguro que quem quer que veja uma criatura com a sua própria forma e feitio, embora esta nunca tenha tido durante toda a sua vida mais razão do que um gato ou um papagaio, ainda lhe chamaria um Homem; ou quem quer que ouça um gato ou um papagaio falar, raciocinar e filosofar chamar-lhes-ia ou pensaria não serem mais do que um gato ou um papagaio e diriam que aquele era um Homem estúpido e irracional e este um papagaio muito inteligente e racional”.
A “forma e o feitio”, não a capacidade de raciocinar, são, pois, os verdadeiros critérios determinantes do que é humano, uma vez que um gato ou um papagaio não passam a ser homens pelo seu hipotético elevado grau de racionalidade, nem tampouco um ser humano o deixa de ser por apresentar graves deficiências mentais. Mas, suponhamos que Locke está errado e que a razão é, realmente, o traço distintivo do humano.
Não nos obrigará este critério a excluir da humanidade todos aqueles que, no dizer do filósofo, “nunca tenham tido durante toda a sua vida mais razão do que um gato ou um papagaio”? Não nos repugna tal discriminação como imoral, da mesma forma que nos repugnam todas as formas de racismo, sexismo e outras? Ora, é justamente a este tipo de exclusão que estão sujeitos milhões de seres cujo único crime é não pertencer à espécie “certa” e não apresentar um QI semelhante ao humano.
Uma ética que se queira verdadeiramente universal não pode fundar-se em fatos – ainda que não os deva ignorar – mas erigir em valor, ou seja, em objeto de consideração ética, o bem próprio de cada ser, segundo a distinção de Moore, reafirmada por Peter Singer em “A Darwinian Left”. Assim sendo, torna-se tão absurdo afirmar que alguém é ou não merecedor de consideração ética consoante à cor da sua pele, como fazer depender aquela da espécie a que pertence, pois se trata, em ambos os casos, de fatos biológicos, não de valores éticos. Perguntar- se-á, então, qual o critério que devemos utilizar para a determinação do valor ético de qualquer entidade, uma vez desmontado o preconceito especiecista responsável por todas as éticas antropocêntricas. Hesito na escolha de um único critério capaz de dar resposta a todos os casos; menciono dois que me parecem eticamente complementares: a senciência e a integridade/dignidade.
Quando Singer defende, numa linha utilitarista, que “o limite da senciência […] é a única fronteira defensável para a preocupação pelos interesses dos outros”, está afirmando que a capacidade de sentir – prazer e dor – constitui um pré-requisito para a própria posse de interesses cuja satisfação cabe à ética garantir; ou seja, ser passível de consideração ética implica ter interesses e ter interesses implica ser capaz de sentir, o que, por seu turno, não significa apenas viver, mas lutar para preservar a vida, não apenas satisfazer as suas necessidades básicas, mas perseguir, por iniciativa própria, essa satisfação e preocupar-se em obtê-la, numa palavra, pressupõe qualquer referência a si como entidade autônoma: alguém e não somente alguma coisa. Ora, em todos os animais detentores de consciência/de si, memória, capacidade de projetar-se no futuro (primatas e mamíferos), existe alguém que sofre e que deseja deixar de sofrer, ou alguém que se sente bem e deseja prolongar esse bem-estar, evitando o malestar, o que torna eticamente condenável toda a inflicção de dor ou sofrimento que não tenha em vista um bem-estar maior para aquele a quem é infligido, sobretudo, se tivermos em conta o cariz supérfluo da maior parte dos interesses humanos em nome dos quais tal sofrimento é provocado (ex: exigências da moda, do paladar, uso de cosméticos, formas de lazer, etc.).
Se o sofrimento põe de forma inequívoca em causa a integridade/dignidade dos seres sencientes, podemos, contudo, antever alguns casos em que a diminuição da dor venha acompanhada de perda daqueles atributos. Suponhamos que um estudo etológico revela que as galinhas cegas são menos agressivas e não se mutilam entre si com a mesma freqüência do que as galinhas normais. Por sua vez, graças à engenharia genética, seria possível criar um novo tipo de galinhas cuja incapacidade visual permitiria poupar-lhes o sofrimento resultante da sua agressividade natural. Numa lógica puramente utilitarista, tal forma de manipulação genética constituiria um bem e deveria ser incentivada, ao passo que, do ponto de vista da integridade psicofísica do animal, representaria, ela mesma, uma forma de mutilação. Assim, se o sofrimento deve estar na primeira linha de combate, na protecção aos animais não-humanos, é preciso lembrar que há outras formas de atentar contra a sua integridade, de que o exemplo dado é um caso limite, mas para as quais todos nós, em maior ou menor grau, com mais ou menos consciência, contribuímos, quando cedemos à tentação de antropomorfizar os animais com quem convivemos diariamente.
Ao serem, na expressão de Tom Regan, “sujeitos-de-uma-vida”, os animais têm direito à sua própria vida e não àquela que julgamos melhor para eles, segundo os nossos próprios parâmetros, o que, no entanto, não impede, a meu ver, o benefício mútuo, sobretudo em nível afetivo, que pode advir do convívio entre humanos e outros animais. É, precisamente, esta troca e esta dádiva mútua que não são capazes de entender e de experimentar todos aqueles que põem, como motivação última para o tratamento digno dos animais, a preservação da integridade moral dos humanos, ou seja, deveres indiretos para com aqueles.
Não estamos, aqui, perante um juízo condicional, mas categórico, ou seja, não é se tratar bem os animais que não me degrado moralmente, mas, ao fazê-lo, estou, não só a respeitá- los na sua integridade, como , por acréscimo, a enriquecer a minha experiência pessoal e a alargar a minha consciência moral, o que me obriga a ter, para com os animais nãohumanos, deveres diretos. Não há, pois, que pôr em alternativa a proteção às crianças, aos deficientes ou aos animais, mas considerá-las em simultâneo, movidos pela mesma coerência com que temos vindo a alargar de modo sucessivo a esfera da consideração moral a todas as formas de alteridade não padronizadas. Esta atitude, longe de significar uma qualquer perda da identidade humana, surge, pelo contrário, como sinal da sua maturidade, pois, “como uma pessoa que continuamente se olha ao espelho, parecemos possuir uma irritante insegurança acerca da imagem que fazemos de nós próprios. Os nossos ruidosos acessos de superioridade sugerem, não que tenhamos uma verdadeira auto-confiança, mas que somos bastante inseguros. […] Somos os membros mais recentes na família da vida – os perpétuos recém-nascidos do mundo animal. De um modo fundamental, precisamos que outras criaturas nos digam quem somos.” (Gary Kowalski, “The Souls of Animals”).
Resta-me fazer votos para que, um dia, deixemos de falar em “ética animal” ou reservemos a expressão para a parte da Etologia reservada ao estudo do comportamento ético dos animais entre si, para passar a falar tão-só em ética. Nesse momento, os objetivos deste artigo serão integralmente cumpridos.
Cristina Beckert
Etóloga, Filósofa e professora da Universidade de Lisboa
Eco 21 – Ano XIV – nº 97 – Dezembro – 2004 (www.eco21.com.br)