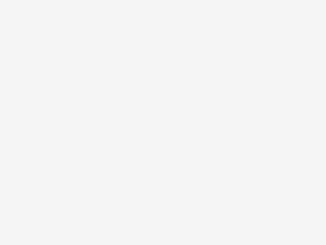“A publicação de listagens é uma contribuição fundamental que a comunidade ornitológica pode prestar aos organismos encarregados de efetivar a defesa do que resta de ambiente natural neste País”(Argel-de-Oliveira, 1993).

A ciência anda a passos largos; não muito retos, mas largos… O que ontem era considerado “ciência de ponta” passou a ocupar a posição de “ponta da ciência”, pronta para ser aparada e descartada sem a menor cerimônia.
Note-se que, nos séculos anteriores, o “quente” era descrever espécies tidas como novas. Era um tipo de embriaguez, vinda desde o período lineano, tendo como aperitivo o interesse de descobrir novos continentes, agora convertido em novas fronteiras científicas. O cientista era reconhecido pela denominação de novos táxons, ganhava méritos pelo número de batizados em latim, pois o horizonte era saber quantas e quais eram as espécies que habitavam o planeta.
Hoje em dia tudo mudou drasticamente. As pesquisas sobre classificação de seres vivos que não contenham análises bio-moleculares e artefatos estatísticos começam a ser encaradas como obsoletas. Vivemos uma fase de despedida das averigüações de espécimes em coleções seriadas, da comparação de cores entre um táxon e outro, um verdadeiro adeus aos confrontos de dados merísticos e de mensurações…
Ultimamente é a complexidade que interessa aos estudiosos, ainda que nem sempre ela obedeça alguma lógica ou critério, mas – quase sempre – ampliando o abismo já formado entre as disciplinas. Os hieroglíficos binômios latinos do Sistema Naturae de Lineu, desta forma, passaram a ser “carne de segunda”.
Autores de espécies passaram a ver seus nomes citados apenas por obrigação editorial de alguns periódicos, quando muito apenas do lado dos nomes científicos, seguidos pelo ano da descrição. Dominam os Qualis, os índices de impacto e as disputas encarniçadas por autorias e por citações em publicações subseqüentes.
Seguindo-se a mesma tendência, o must passou a ser as seqüências nucleotídicas, as séries de números antecedidos de vírgulas e as aplicações curiosas da Lei das Probabilidades, nem sempre com a base matemática necessária.
Em parte, tudo isso é bom, porque – afinal – observamos uma nova revolução nos conceitos metodológicos, nas filosofias, na teoria e prática das ciências biológicas. Passamos a nos mover à cata de novidades, nem sempre confiáveis, mas sempre novidades, dignas de autocrítica e de constantes reavaliações. Por outro lado, parece que estamos todos nos empenhando para descartar, do cardápio científico, um ingrediente importante da culinária conservacionista: as listas faunísticas.
Em quase todo o Século 20, a conservação era praticada para proteger paisagens bonitas e atraentes, deixando-se a biota em segundo plano. Curiosamente, as listas de animais e plantas que ocorriam em determinadas regiões tinham um lugar de destaque no currículo dos mestres. Tais listas, nada mais eram do que um resultado elitista, cuja concepção vinha desde o período das descobertas.
Afinal, identificar as espécies que viviam em determinados locais, equivalia ao ato simbólico de fincar bandeira num território ignoto. O tempo foi passando e poucas pessoas compreenderam que tal atividade trazia consigo um significado muito maior do que esse: conhecer as espécies que ocorrem em determinada região é a única forma de efetivamente conhecer a sua biodiversidade.
Cada localidade visitada – e estudada, e divulgada – nada mais é do que um grão de milho a mais no papo da galinha biogeográfica. E menos gente ainda percebeu que esse galiforme era o prato principal da conservação!
Atualmente, o advento da recentíssima disciplina da Biologia da Conservação, parece não acompanhar esse caminho. Assumindo a postura, esse campo adquire dia-a-dia um forte encargo acadêmico, a presença em grades curriculares e, conseqüentemente, uma trajetória diferente quanto ao que deve (ou não deve) ser usado como instrumento.
É incrível como imitamos de forma simiesca os países ricos e colonizados há muitos séculos, pensando que podemos tratar de nossos dados tal como eles o fazem. Enquanto boa parte das espécies de lá são satisfatoriamente conhecidas, as daqui oscilam entre um conhecimento pífio da distribuição geográfica, concentrado nas regiões sudeste e sul, e um oceano absurdo de desconhecimento em outras áreas.
Já engajada nos complicados trâmites da academia, a conservação tem absorvido grande parte de seus ranços. Maior parte das revistas científicas, portanto daqueles veículos que carregam consigo a credibilidade maior nos meios acadêmicos, rejeitam listas de espécies. Elas passaram a ser um estorvo, uma vez que carregam com evidência a mesma falta de rigor de certas publicações mais complexas que, ao contrário destas, conseguem ocultar suas limitações em seus textos.
O próprio mestre Ubirajara Martins (1983), no clássivo livro “Fundamentos práticos de Taxonomia Zoológica”, expunha: “Consistem numa simples relação de espécies encontradas em determinada localidade, área ou região […]. São geralmente de interesse extremamente limitado e na maioria das vezes só servem para atrapalhar, devido à inclusão de nomes ou identificações errôneos”.
Hoje em dia, ainda, sabemos que periódicos de renome deixam explícitos em suas normas: “não serão aceitas listas de espécies…”. Segundo Argel-de-Oliveira (1993: Bol. CEO 9:36-41), essa atitude “… é uma faca de dois gumes. Por um lado impede que os inevitáveis erros apareçam por todos os lados e acabem se perpetuando na literatura.
Por outro lado, acabou dando origem a uma falta de informação que afeta uma atividade que se torna cada dia mais importante: a prestação de serviços a empresas ou órgãos governamentais voltados à conservação da natureza”. Essa mesma autora complementa, usando o grave problema da falta de informação: embora muitos dos estudos ambientais contem com a colaboração de profissionais competentes, “a carência de dados da literatura pode comprometer o grau de especificidade e aplicabilidade das conclusões apresentadas”.
E isso, mesmo sem muitos terem se dado conta, vem se refletindo na conservação, digo, nas ações visando a proteção da natureza. Isso é lembrado, por exemplo, nas “Diretrizes para o Desenvolvimento da Zoologia” divulgadas pela Sociedade Brasileira de Zoologia (SBZ, 1990: Bol. Inf. SBZ 12:1-10):
“De tudo isto resta uma perspectiva pouco animadora para as condições de vida do homem, com perda da qualidade de água, do ar e do solo. Para que haja uma reversão neste processo, de forma a ocuparmos novos ambientes, com inteligência, e recuperarmos os degradados para que possam oferecer sustentação harmônica a todos os seres vivos, há que os conhecer. Este conhecimento começa pela base, ou seja pelo estudo dos organismos que compõem o ambiente. Necessitamos desenvolver com rapidez uma ação que propicie o levantamento da fauna brasileira.”
É evidente que o conhecimento puro e simples de quais espécies ocorrem em quais lugares não deve ser considerado um resultado isolado; tais informações servirão para alimentar outras linhas de pesquisa. Estudos com biogeografia, por exemplo, sejam para definir padrões de distribuição e áreas de endemismos, sejam voltados a vários outros propósitos, têm sido considerados imprescindíveis para a conservação.
Afinal, é por meio deles que se pode ter um traçado, ainda que um esboço, da composição de espécies de um local destinado a transformar-se em unidade de conservação. E é também por seu intermédio que surgem os argumentos para tanto, pela presença de espécies raras, ameaçadas ou que mereçam algum tipo de proteção.
Ainda que a biogeografia seja o instrumento mais valioso para a conservação, ela vem sofrendo seriamente com a enorme escassez de informações primárias, uma vez que a maior parte dos estudos voltados à definição de padrões de distribuição baseiam-se, dentre outras fontes, em listas de espécies da região estudada.
E o que acaba acontecendo é que as incansáveis buscas por informações sobre presença de espécies em certos locais, acabam levando a resultados fragmentados. Acaba sendo forçosa, nesse sentido, a utilização das informações já escassas, pontuais e deterioradas, na literatura antiga e em acervos de museus, sendo que muitos dos locais visitados no passado já não se encontram mais com as condições ambientais de outrora.
E não são apenas as bases acadêmicas que se prejudicam com essa tendência atual de segregação de matéria-prima. Também estudos de impactos ambientais – aquelas avaliações que muitos fazem, mas poucos admitem – carecem de informações sobre ocorrência de espécies, necessitando com muita freqüência incluir, em seu cronograma e orçamento, os levantamentos de campo em lugares que já foram estudados (mas cujos resultados não foram publicados). E, alimentando o círculo vicioso, acabam por não gerar nenhum tipo de divulgação sobre os resultados obtidos, exigindo mais e mais gastos para se chegar a mesmos resultados já colhidos, mas nunca disseminados!
É curioso que, quando o estudioso da conservação trata de biodiversidade ele quase sempre não saiba do quê está falando. E isso simplesmente porque a pretensa riqueza de espécies de sua área de estudo é mais hipotética do que efetivamente disponível.
Quando chegamos nisso, qual é a solução? Frente à inexistência de informações sobre ocorrências de espécies, os autores passam a criar artifícios, como matematização de distribuições, esboços de distribuições potenciais e outras técnicas.
E tudo isso para suprir aquilo que está fartamente guardado nas gavetas dos pesquisadores: as listas de espécies. É quase como se grande parte da produção agrícola do mundo permanecesse estocada em silos, enquanto o dinheiro é gasto para a sintetização dos componentes alimentícios desses alimentos. E nem sempre com as mesmas características nutricionais.
O presente ensaio é menos uma crítica e mais um estímulo para reflexão. Se listas de espécies são incontestavelmente necessárias para a biogeografia e essa é obrigatória para a conservação, não caberia aqui uma revisão de conceitos? Vamos continuar a agir e pensar como se não precisássemos de listas faunísticas ou vamos estudar meios alternativos para publicá-las? A natureza, e quem luta para preservá-la, agradece…
Fernando Straube – Ornitólogo